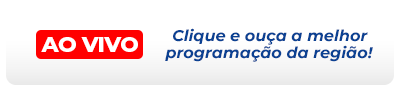A história do voto no Brasil – da primeira eleição ao voto secreto
Em outubro, quase 143 milhões de brasileiros estarão aptos a ir às urnas. A maioria deles acostumados a escolher um candidato pela urna eletrônica, em um processo reconhecido como universal, seguro e ágil. Mas nem sempre foi assim. E o Brasil precisou percorrer um longo caminho até chegarmos aqui. A Rádio Câmara apresenta nesta semana uma reportagem especial, em dois capítulos, sobre a história do voto no país e os desafios para tornar nosso processo eleitoral cada vez mais transparente e democrático.
A história do voto no Brasil começou quando ainda éramos colônia de Portugal. A estreia foi em 1532, com a eleição dos membros do Conselho Municipal da Vila de São Vicente, em São Paulo. Mas naquela época o sistema não era unificado para todo o território nem muito menos para todos. Ao longo da colônia e, mesmo após a independência do país e a chegada do período imperial, voto era para quem tivesse uma renda mínima. E a lisura do processo não parecia uma preocupação.
Um pouco antes da chegada da República, ainda durante o Império, instituiu-se, em 1881, o título de eleitor, mas sem foto, o que não impediu as fraudes.
Veio a República, em 1889, mas as adulterações continuaram. Por outro lado, o voto deixou de ser censitário, ou seja, determinado pela renda, mas seguia vetado a menores de 21 anos, mulheres, analfabetos, soldados rasos, indígenas e integrantes do clero.
O cientista político Paulo Kramer avalia que a principal mudança no perfil das eleições do Brasil está na ampliação gradativa do número de participantes no processo eleitoral:
“Na República Velha, de 1889 a 1930, só para ter um exemplo, não participavam nem 10% da população nas eleições. Voto feminino ainda não havia sido aprovado. O que você tem de 1930, 32 mais precisamente, quando foi aprovado o primeiro código eleitoral, já permitindo voto feminino, e com mais força, do final da Segunda Guerra, de 1945, com a redemocratização, e do fim do Estado Novo para cá? Esse eleitorado só tem feito crescer acompanhando a tendência à urbanização, industrialização do país.”
O primeiro código eleitoral, de 1932, trouxe também o voto secreto. E, em 1955, as eleições passaram a envolver cédulas e um título eleitoral com foto.
Em 1964, seguiu-se um período de duas décadas de ditadura militar no país, quando, entre inúmeras restrições de direitos, o voto também foi afetado. O brasileiro somente voltaria a eleger diretamente um presidente em 1989. Durante o regime militar, por vezes, se permitiu a eleição para cargos proporcionais, prefeito ou governador, mas dentro de um sistema bastante restrito e conturbado.
Em 1985, após a frustração das Diretas Já, finalmente o país conquistou na lei o voto direto para presidente. A partir de então, analfabetos e maiores de 16 anos também passaram a ter o direito de participar das eleições. A Constituição de 1988 abriu a possibilidade do voto a detentos, o que foi viabilizado em 2010.
Além das mudanças na lei, a Justiça Eleitoral também foi buscando novas normas e procedimentos para ampliar a segurança e participação dos brasileiros nas eleições. Em 1986, a Justiça passou a cadastrar os eleitores nacionalmente. Até então, o registro estava nas mãos dos estados, o que gerava insegurança quanto à duplicidade e transferência entre os estados.
O cientista político Jairo Nicolau destaca que, hoje, a mecânica de votação no Brasil não está mais sob suspeita:
“Claro que ainda há um pouco de corrupção eleitoral, mas vários passos foram dados, como voto secreto, mais recentemente a criação da urna eletrônica. Todos foram esforços feitos às vezes por intermédio de decisões do Congresso, às vezes do Judiciário, no intuito de tornar eleições mais legítimas e mais limpas. A mecânica de votação, que parece pouco hoje, mas não é pouco. As eleições até recentemente eram razoavelmente adulteradas. Vota-se morto, que estava fora do cadastro, adulterava-se o resultado das eleições manipulando boletins de urnas.”
Num esforço para garantir cada vez mais a lisura e a eficiência do processo, a Justiça eleitoral amplia nestas eleições de outubro o número de brasileiros identificados pelas digitais. Serão 21 milhões de eleitores de 770 cidades de todos os estados e do Distrito Federal.
Entre os municípios, 15 capitais irão utilizar o sistema biométrico, que começou a ser testado em 2008. Nas últimas eleições gerais, em 2010, mais de um milhão de eleitores de 60 municípios de 23 estados usaram a digital para se identificar. A meta é que, até 2018, o sistema biométrico esteja presente em 100% dos municípios nas eleições.
Os desafios para tornar o processo eleitoral cada vez mais transparente e democrático.
Quais são os desafios para tornar o processo eleitoral brasileiro cada vez mais transparente e democrático? Cientista político diz que o sistema continua sendo elitista, elegendo os que fazem as campanhas mais caras. Daí a necessidade de uma reforma política. Confira hoje, no último capítulo da reportagem especial sobre a história do voto, com a repórter Ana Raquel Macedo.
Em quase cinco séculos de história, o voto no Brasil passou por diferentes mudanças até chegar ao modelo que, logo mais, em outubro, vamos vivenciar em nossa ida às urnas. O processo – universal, ágil e seguro – vai estar aberto a quase 143 milhões de brasileiros nestas eleições.
Mas nem sempre foi assim e, nos primórdios, votar era um direito limitado aos homens que gozassem de uma renda mínima. Com a chegada da República, em 1889, o voto deixou de ser ditado pela renda, porém, seguia impedido à maioria, inclusive às mulheres.
 O voto feminino veio na década de 30 do século passado. Mas as fraudes no processo, apesar de diminuírem a cada pleito, seguiriam assombrando nosso processo por ainda algumas décadas ao longo do século XX.
O voto feminino veio na década de 30 do século passado. Mas as fraudes no processo, apesar de diminuírem a cada pleito, seguiriam assombrando nosso processo por ainda algumas décadas ao longo do século XX.
cientista político Jairo Nicolau tem um livro sobre a história do voto no país. Ele avalia que o atual processo eleitoral no Brasil, com cadastro nacional de eleitores e urnas eletrônicas, não está mais sob suspeita. Agora os desafios são outros:
“Esse sistema é de massa na entrada (para se candidatar), mas continua sendo elitista. Não no sentido tradicional do Império, quando geralmente eram advogados, juízes, advogados, figuras do clero que se elegiam. Hoje continua sendo a elite, só que agora a elite econômica.”
Para Jairo Nicolau, é preciso pensar um novo modelo de financiamento das campanhas:
“O principal desafio é criar novo mecanismo do financiamento da política eleitoral e partidária. O fundo partidário está chegando a R$ 400 milhões por ano. Prestação de contas dos partidos mereceria mais transparência. Desafio maior é como sair de um sistema em que eleições são basicamente financiadas por empresas, que obviamente têm muitos interesses na política. Não só de fazer lobbies específicos por ideias, mas por interesses muitas vezes ruins para país, como vencer certas concorrências para obra, proximidade de políticos com empreiteiras. Eleições cada vez mais caras. Caixa dois é componente do sistema. Não é fácil sair do modelo, mas o Supremo indica que deve proibir financiamento de empresas. Quando isso acontecer, o Congresso terá que pensar em alternativas.”
Na avaliação do cientista político Paulo Kramer, é preciso refletir também sobre o nosso sistema de eleição para a Câmara dos Deputados e Assembleias Legislativas, o proporcional:
“Nossa representação proporcional tem muitos defeitos. Gera muitos candidatos. O eleitor fica confuso. Raro o eleitor que se lembra em quem votou um mês antes, dois meses antes. Tende a favorecer indevidamente os partidos grandes, pelo cálculo das sobras. Como é o cálculo? Coeficiente eleitoral. Você tem tendência a beneficiar partidos maiores em detrimento dos partidos menores.”
Diferentemente da eleição de presidente, governador e senador, em que vence o candidato com mais votos; deputados federais e estaduais são eleitos por meio de um cálculo, mais complicado, que também envolve o total de votos dados ao partido ou à coligação.
Primeiramente, é calculado o quociente eleitoral, ou seja, a divisão do número total de votos válidos pelo número de vagas de cada Parlamento. Para participar da distribuição de vagas na Câmara dos Deputados ou nas Assembleias Legislativas, o partido ou coligação precisa alcançar este quociente eleitoral.
Em seguida, é calculado o quociente partidário, que vai determinar o número de vagas de cada partido ou coligação na casa legislativa. O quociente partidário é determinado pela divisão do número total de votos do partido pelo quociente eleitoral. São esses cálculos que explicam, por exemplo, o fato de determinado candidato não ser eleito, mesmo tendo recebido muito mais votos do que outro candidato.
Entre parlamentares e estudiosos do tema, alguns defendem que o processo poderia ser aperfeiçoado a partir da eleição para deputados em lista fechada, pré-determinada pelos partidos. Paulo Kramer vê pouca chance de a mudança vingar:
“Hierarquiza-se na convenção do partido, vota-se numa lista. Quem está no topo da lista recebe os primeiros votos e se beneficia em relação aos últimos lugares e isso, no caso brasileiro, leva a muitas críticas. Primeiro, o eleitor, embora às vezes não se lembre em quem votou, continua sendo personalista, quer uma cara, um rosto, um fulano. Por outro lado, quem está nos partidos reclama. Se eu for o filho do cacique ou neto do cacique ou genro do dono desse partido – como falamos aqui – vamos ficar lá no topo. Se sou de grupo contrário no partido, vou lá para baixo da lista. Por isso, lista fechada, embora seja hoje amplamente usada em países europeus e outros, não tem muita chance de vingar no Brasil.”
Um outro aspecto que merece reflexão é a obrigatoriedade do voto. A abertura do processo eleitoral a todos os brasileiros maiores de 16 anos é, sem dúvida, uma conquista. Mas, hoje, muitos se questionam se esse direito deve também ser uma obrigação a partir dos 18 anos.
O cientista político Jairo Nicolau tem dúvidas sobre o real efeito de um eventual fim da obrigatoriedade do voto:
“Não vejo como a democracia brasileira poderia melhorar caso o voto fosse facultativo. Teríamos certamente uma diminuição substancial do comparecimento. Não sei qual perfil iria ou deixaria de ir. Pessoas que têm interesse na política? Uma parte das que não têm interesse poderia ser atraída por mecanismos escusos, ou seja, fariam nova forma de pressão, corrupção que levaria as pessoas a comparecer às urnas?”
Paulo Kramer também cita alguns riscos na adoção do voto facultativo no Brasil:
“Eu, como cidadão e cientista político, sou a favor do voto facultativo. Acho muito esquisito que seja um direito e ao mesmo tempo um dever. Acho que deve ser um direito. Mas reconheço que, levando em conta as grandes disparidades educacionais, de renda, de região, que temos no Brasil, o voto facultativo talvez viesse a traduzir um desequilíbrio, um desbalanceamento muito grande em relação aos vários setores da população que votam.”
Voto facultativo, lista fechada e financiamento de campanha estão em discussão na Câmara dos Deputados há alguns anos. Mas, dada a multiplicidade de interesses e opiniões envolvidos, as diferentes propostas de reforma política e eleitoral ainda não conseguiram consenso.
Termina aqui a série especial sobre a história do voto no Brasil. Reportagem especial é apresentada toda semana, a partir de segunda-feira, em capítulos, e em três horários na Rádio Câmara: 6h20, 13h45 e às 23h10.
Edição – Mauro Ceccherini
Produção – Umberto Pinheiro e Christina Velho